“O ESPAÇO GEOGRÁFICO NÃO É NEUTRO”: POR UMA EDUCAÇÃO SEM SEXISMO E SEM DISCRIMINAÇÃO
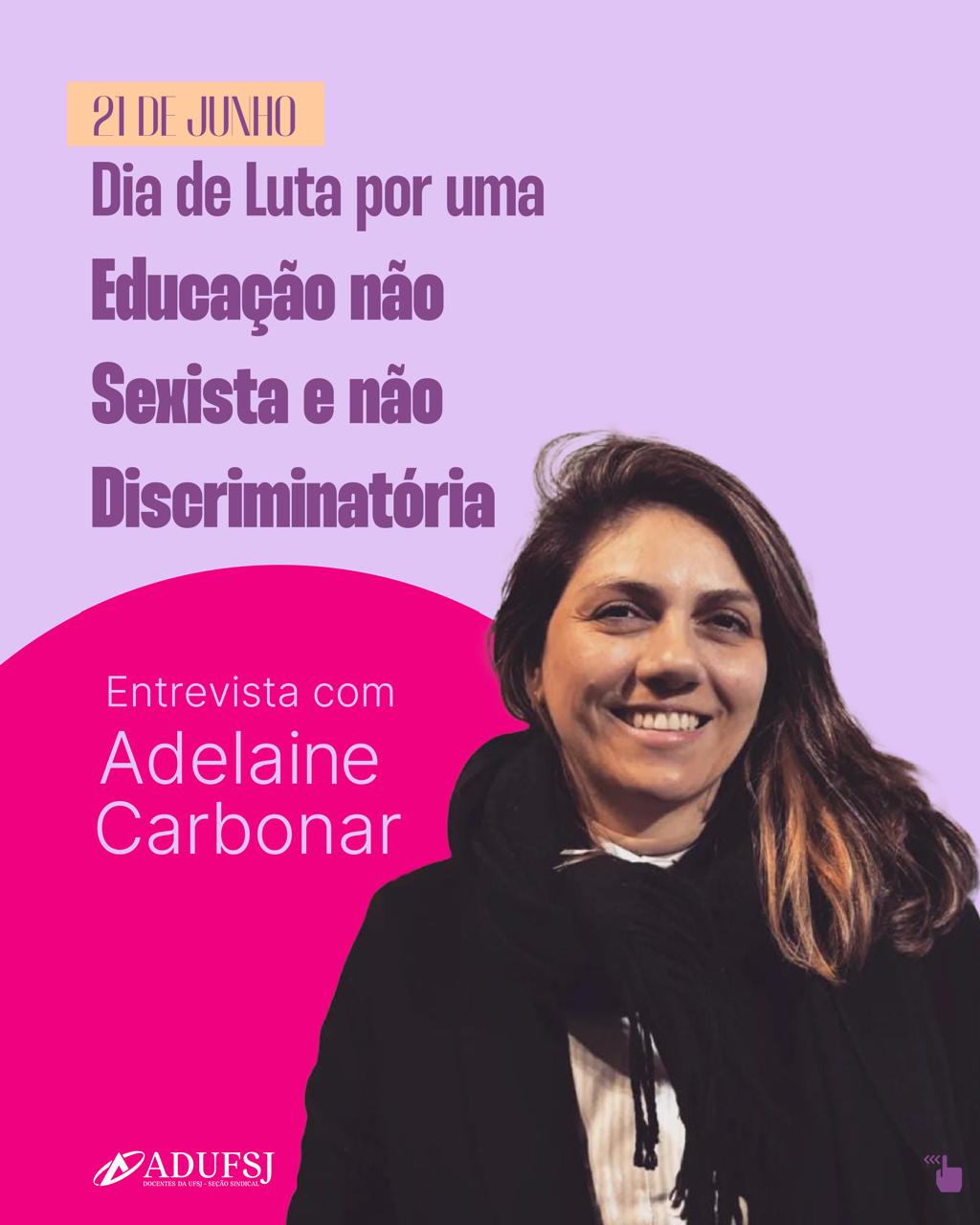
Neste sábado, dia 21 de junho, é o Dia de Luta por uma Educação não Sexista e não Discriminatória, temas que atravessam a atuação da ADUFSJ - Seção Sindical. Para dar visibilidade a este debate, conversamos com a professora Adelaine Carbonar, do Departamento de Geociências da Universidade Federal de São João del-Rei (DEGEO/UFSJ). Adelaine é doutora em Geografia e pesquisadora do Grupo de Estudos Territoriais (GETE/UEPG), que desenvolve pesquisas relacionadas ao Espaço Geográfico, Educação, Sexualidades, Gênero, LGBTfobia, Políticas Públicas e Produção Científica.
Confira a entrevista:
1. Apesar dos avanços nas discussões sobre diversidade, algumas práticas pedagógicas ainda reproduzem, mesmo que de forma sutil e inconsciente, o sexismo e a discriminação. Que exemplos você destacaria como recorrentes nos ambientes educacionais e que merecem ser repensados?
Apesar dos avanços que conquistamos através do espaços educacionais, como a política de cotas, a adoção de nome social e a inserção das discussões sobre gênero e sexualidades, infelizmente, algumas práticas ainda reforçam estereótipos de gênero e sexualidades, os quais contribuem para a produção de espaços interditos, termo cunhado pela Professora Joseli Maria Silva, a partir de uma perspectiva geográfica. Como exemplo eu poderia citar a própria arquitetura dos banheiros que reitera a generificação, especialmente aqueles que utilizam os mictórios, além das atividades e determinadas tarefas que contribuem, muitas vezes pensadas de forma inocente, para a ficção de masculinidades e feminilidades esperadas socialmente. Assim, determinadas brincadeiras a exemplo de que meninas fiquem responsáveis por arrumar a sala enquanto os meninos cuidam de tarefas mais "ativas". A própria brincadeira de boneca para as meninas e bola para os meninos, pode ser pensada geograficamente, uma vez que o centro, especialmente nos intervalos e recreios, são ocupados pelos meninos ao jogar, enquanto que as meninas se localizam às margens, frequentemente em pequenas rodas de conversa, não ocupando o espaço. Isso evidencia que a ocupação dos espaços se dá de forma desigual. Outro ponto que precisamos refletir é o próprio currículo que invisibiliza determinados grupos, como mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+. É comum notarmos a ausência destes corpos no que tange a citação de exemplos em relação à determinados cargos representativos em livros didáticos. Isso reforça a ideia de que certos espaços de destaque não pertencem a essas pessoas. A minha dissertação de mestrado evidencia o quanto as brincadeiras, piadas e comentários naturalizam a discriminação, realizados não só por discentes, mas também por docentes, especialmente entre eles durante os recreios e intervalos na sala dos professores.
2. Pensando em uma educação transformadora, que estratégias ou iniciativas você considera eficazes para que educadores e instituições realmente promovam uma cultura de respeito à diversidade e rompam com modelos educacionais excludentes?
Eu acredito muito na formação continuada de professores. Ao longo dos 12 anos que estudo sobre gênero e sexualidade, apliquei cursos e oficinas voltadas ao público docente. Assim, percebi uma mudança, uma vez que é necessário o conhecimento e reflexão constante sobre como as ações impactam a vivência dos discentes, embora, estas discussões não estejam livres de resistência por parte de grupos mais conservadores. Outra estratégia importante é abrir espaço para o protagonismo estudantil, ouvindo as vozes de meninas, meninos, pessoas LGBTQIAPN+ e outros grupos minorizados nos espaços educacionais. Trabalhar com projetos interdisciplinares, trazer debates sobre direitos humanos, gênero e diversidade de forma transversal e cotidiana, não só em datas comemorativas. Além disso, é essencial revisar materiais didáticos e propor atividades que representem diferentes identidades, culturas e formas de viver. Por fim, é necessário perceber que políticas de acesso precisam andar juntas com políticas de permanência através dos espaços.
3. Com base nas suas pesquisas sobre políticas públicas e LGBTQIAPN+fobia, quais barreiras ainda precisam ser enfrentadas pela comunidade LGBTQIAPN+, especificamente, no ambiente educacional?
Minha dissertação de mestrado e tese de doutorado evidenciam a LGBTQIAPN+fobia nos espaços educacionais. Este fenômeno é uma realidade e está inserido num continuum, uma vez que o preconceito e discriminação perpassam todos os níveis educacionais. Assim, tanto o espaço escolar, quanto o espaço acadêmico são (re)elaborados mediante a (cis)heteronormatividade, a partir de diferentes formas de violência, seja verbal, psicológica e/ou física, casos de bullying e exclusão social. Além disso, foi possível evidenciar a partir destas pesquisas a falta de preparo das equipes pedagógicas para lidar tanto com denúncias de preconceito e discriminação, quanto acolhimento das vítimas. Não há um protocolo claro de como agir diante de casos de LGBTQIAPN+fobia. Outro desafio é o reconhecimento da identidade de gênero de estudantes trans e não-bináries: desde o uso do nome social até o acesso a banheiros e uniformes adequados. Sem falar na ausência de políticas públicas consistentes que garantam a permanência e o sucesso escolar dessas pessoas.
4. Enquanto pesquisadora, você integra o Grupo de Estudos Territoriais (GETE/UEPG), que desenvolve pesquisas envolvendo espaço geográfico, educação, gênero, sexualidades e políticas públicas. Como esses temas dialogam entre si?
O Grupo de Estudos Territoriais, vinculado à Universidade Estadual de Ponta Grossa, é coordenado pela Professora Dra. Joseli Maria Silva, desde o ano de 2003. A partir do início das pesquisas sobre o tema em foco, foi evidenciado que as temáticas de gênero e sexualidade estavam sendo negligenciadas e silenciadas pelo campo científico geográfico brasileiro. Além disso, existia uma determinada dificuldade de publicar as pesquisas em revistas científicas. Assim, a Revista Latinoamericana de Geografia e Gênero foi criada com o objetivo de publicar artigos científicos relacionados à área de geografia, gênero e sexualidades, além de estimular o debate acadêmico daqueles que atuam na temática. A partir deste movimento inicial, foram ampliadas as relações com profissionais da América Latina e outras regiões do mundo, criando a Rede de Estudos de Geografia, Género e Sexualidade Ibero Latino-Americana (REGGSILA). A partir deste cenário, foi estabelecido a cada dois anos o Seminário Latinoamericano de Geografia, Gênero e Sexualidades (SLAGGS), sendo a última edição (VI) ocorrida em Bogotá, Colômbia, em 2024, o qual estive presente. Este contexto é importante para a compreensão de como a Geografia, gênero e sexualidades se relacionam. O espaço geográfico não é neutro. Ele é atravessado por relações de poder, desigualdades e diferentes formas de ocupação. Quando pensamos em gênero e sexualidade, estamos falando também de como as pessoas vivem e transitam nesses espaços. Ou seja, quem tem direito à cidade, quem se sente seguro na escola/universidade e demais espaços, quem é visível e quem é invisibilizado. As políticas públicas entram justamente como forma de enfrentar essas desigualdades e garantir direitos.
Outro ponto importante é que, assim que entrei em exercício na UFSJ, criei meu próprio grupo de pesquisa, intitulado “Grupo de Estudos e Pesquisas em Geografias Interseccionais” (GEPGI). A partir dele, venho realizando discussões, pesquisas, orientações de Iniciação Científica e Mestrado sobre Geografia, gênero e sexualidade, numa perspectiva interseccional.
5. A proposta de uma educação não sexista está profundamente ligada às lutas históricas dos movimentos feministas, que denunciam desigualdades como a sobrecarga da dupla/tripla jornada, a desvalorização do trabalho feminino e a exclusão das mulheres de espaços de poder e tomada de decisão. Como a educação pode atuar para desconstruir esses padrões e formar sujeitos mais críticos em relação às desigualdades de gênero?
A educação tem um papel central nesse processo. Primeiro, precisamos incluir a história e as contribuições das mulheres nos conteúdos escolares e acadêmicos. Isso ajuda a mostrar que o lugar das mulheres sempre foi também na ciência, na política, na arte, em todos os espaços. Segundo, é fundamental trabalhar a partir de metodologias que estimulem a reflexão crítica: por que as meninas ainda são minoria nas ciências exatas, por exemplo? Por que as mulheres recebem salários menores? Por que elas acumulam mais tarefas domésticas? Por que elas publicam menos, porém com mais consistência nas suas discussões científicas? Essas perguntas precisam fazer parte do cotidiano escolar e acadêmico. Além disso, criar espaços seguros para o diálogo, onde meninas e meninos possam debater essas questões, é essencial para formar sujeitos mais críticos e conscientes.
6 - Algo mais que você gostaria de acrescentar que não foi abordado ao longo da entrevista?
Gostaria de reforçar que discutir gênero e sexualidades nos espaços educacionais não é uma escolha, mas uma necessidade. Estamos falando de direitos humanos e de garantir um ambiente educacional mais seguro, acolhedor e democrático para todas as pessoas. Também é importante lembrar que construir uma educação inclusiva é um processo coletivo, que envolve não só docentes, mas também discentes, famílias e toda a comunidade.
